ARTIGO
A guerra dos EUA contra a Rússia e o deslocamento do eixo central da economia mundial da América para Ásia
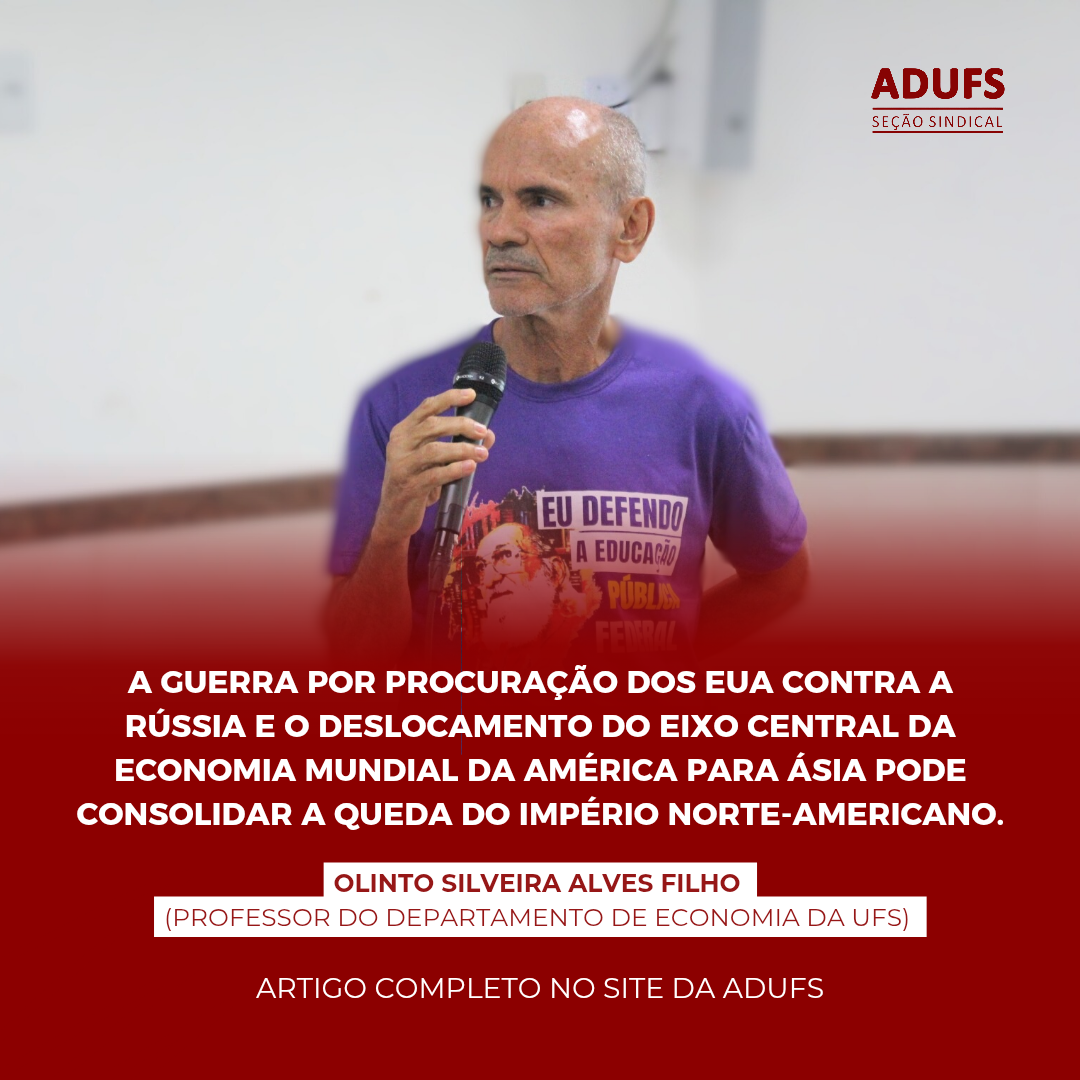
Olinto Silveira Alves Filho
(Professor do Departamento de Economia da UFS) – 18 de agosto de 2025
Através de uma abordagem da economia política, buscaremos fazer neste texto uma breve sinopse histórica, a partir do século XVI, do surgimento e queda (perda de hegemonia) dos impérios holandês, britânico e americano. Procurando encontrar elo com suas respectivas moedas em paralelo com a criação dos dois únicos sistemas financeiros e monetários internacionais existentes até hoje: o britânico (já morto e enterrado) e o americano (que se encontra moribundo na UTI). Adicionalmente, como não poderia deixar de ser, analisaremos a conjuntura internacional, evidenciada por meios de violentas ações dos Estados Unidos, que recorrem a todos os tipos lícitos e ilícitos de medidas, no sentido de conservar sua hegemonia. Por fim, examinaremos aqui a emergência do BRICS e do seu papel neste contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia e da agora muito mais provável queda do império americano.
A partir do século XVI, onde predominou o comércio de longa distância e a acumulação primitiva de capital, já sob a proeminência da “modernidade capitalista”, registra-se historicamente o surgimento e a queda de três grandes impérios: o holandês, o britânico e o já agora decrepitado império americano. Para sustentar sua supremacia imperial, cada um em seu devido contexto histórico, dentre tantos outros expedientes, teve que lançar mãos de violentas guerras, provocando transformações estruturais e deslocamentos das “placas tectônicas” da geopolítica mundial.
Isso é o que estamos assistindo, presentemente, com as políticas do império americano: guerra por procuração contra a Rússia, através da Ucrânia; guerra relâmpago contra o Irã; guerra de destruição e fragmentação da Síria; guerra comercial contra quase todos os países do mundo; declaradas ameaças de contenção da China; sanções econômicas e sobretaxas comerciais contra países adversários e também aliados (caso do Canadá, da Índia e do Japão); acordos comerciais e militares de vassalagem com a União Europeia; dentre outros.
Na América do Sul, os Estados Unidos estão financiando e articulando o retorno de governos de extrema direito. Enviaram três navios destróier para o Mar do Caribe, próximo da costa da Venezuela, ameaçando invadir este país, com mentirosos argumentos de combate ao terrorismo do narcotráfico (oferecem 50 milhões de dólares para quem prender Nicolás Maduro). No Brasil, Donald Trump, além de impor taxações de até 50% nas exportações (tarifaço), promove abertos ataques à soberania nacional e suas instituições (STF), com veladas intenções golpistas de mudança de regime.
O império Holandês, com sua poderosa Marinha e seu domínio nas transações comerciais e financeiras mundiais, conquistou espaçosas regiões do mundo. De fato, a Holanda começou o seu domínio em 1602, com a criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Esta gingante desempenhou papel crucial, ao instituir postos comerciais avançados em boa parte do globo, estendendo seus tentáculos no comércio de especiarias da Ásia, mas também em algumas regiões da América, a exemplo do Suriname e das Ilhas do Caribe. Inclusive marcando presença, em curta temporada, no Brasil, no caso, no Nordeste brasileiro. Por sua vez, a Marinha holandesa garantia a proteção do seu comércio internacional e a manutenção de suas conquistas territoriais estratégicas.
Todavia, motivados por rivalidades comerciais e ambições imperiais, no transcorrer dos séculos XVII e XVIII, ocorreram uma série de conflitos navais entre Inglaterra e Holanda que culminaram na grande Guerra Anglo-Holandesa, causando imensas derrotas para o império. Nesta conjuntura, a perda de Malaca para os britânicos, a ocupação francesa de territórios holandeses e suas derrotas navais gradativamente conduziram à perda da hegemonia do império Holandês, criando as condições para o surgimento de um novo império, o Britânico.
Na sequência, por volta do terceiro quartel do século XVIII, ainda na Inglaterra, ocorre a Primeira Revolução Industrial, acelerando o crescimento econômico e a expansão do comércio britânico, ao estabelecer colônias em vastos continentes.
Nesse contexto, a Inglaterra obtém do titulo de maior potência econômica e financeira mundial e se torna fonte financiadora de empréstimos externos para outros países. Por sua vez, desde o início do século XVIII, era a única nação que cunhava sua moeda exclusivamente com ouro. Desta forma, a “Rainha dos Mares” acabou impondo, aos países que buscavam financiar seus processos de industrialização, a obrigação de adotar o seu padrão monetário: padrão-ouro libra-esterlina.
De tal forma que esses países comprometiam-se a atrelar o valor de suas moedas a certa quantidade de ouro. Dito de outra forma, cada país assumia a responsabilidade de converter sua moeda doméstica em ouro, a um determinado preço, expresso em libra esterlina, e isso significou, na prática, a adoção de um regime de câmbio fixo. Por conseguinte, a Inglaterra na prática acabou criando o primeiro Sistema Monetário Internacional, onde a libra esterlina funcionava como reserva de valor, unidade de conta e meio de troca para as transações no comércio internacional.
Desta forma, a Inglaterra conseguiu impor uma relativa estabilidade política e econômica, tanto na Europa como no resto do mundo, por quase um século (1815 a 1914). Particularmente, estabeleceu o tão almejado equilíbrio das transações do comércio mundial, garantindo, em conjunto com seus parceiros comerciais, a estabilidade no funcionamento do mecanismo de ajuste do padrão ouro-libra.
Todavia, o acúmulo de contradições e de inevitáveis problemas no sistema imperial britânico (e de sua unidade monetária) provocou a vulnerabilidade do padrão-ouro/libra, principalmente com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Neste caso, os custos desta guerra e da reconstrução dos países europeus, no pós-guerra, demonstraram que a manutenção de algum tipo de equilíbrio e estabilidade para as contas correntes dos países no mercado internacional não teria fôlego e sustentabilidade. Além disto, a imensa escassez de ouro corroborava para minar o poder da Grã-Bretanha em sustentar a libra.
De fato, o regime de conversão cambial de taxas fixas, no contexto da guerra e do pós-guerra, fez com que a libra esterlina passasse a derreter, perdendo toda a credibilidade que a sustentava, até então, antes da guerra. Outro fator de grande envergadura que acelerou o descredito da moeda britânica e conduziram muitos países a abandonar a moeda inglesa foi a Grande Depressão de 1929, com o agravante de suas consequências reverberarem durante quase toda a década de 1930.
Pode-se afirmar que os transtornos dessa década tiveram como principais elementos as políticas (conduzidos por várias nações) de depreciação competitiva (desvalorização da moeda doméstica); imposição de restrições cambiais (guerra cambial); taxação de importações (guerra comercial), entre outros dispositivos que praticamente embaraçavam, quando não inviabilizavam, as transações do comércio mundial.
Esse estado de coisas fez com que o império inglês, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, perdesse sua hegemonia para os Estados Unidos. Fazendo emergir, portanto, um novo Sistema Monetário Internacional, o americano.
O sistema monetário americano foi institucionalizado por meios de acordos e convenções estabelecidos na Conferência de Bretton Woods, em 1944. Esta Conferência, dentre outros, estabeleceu um regime de câmbio fixo, segundo o qual a conversibilidade das moedas estrangeiras em ouro se daria em um valor fixo, sustentado pelos Estados Unidos, qual seja, o grama de ouro tinha que ser mantido ao preço oficial de US$ 35 a onça Troy.
Na Conferência de Bretton Woods foram criadas duas das principais instituições financeiras do novo império, quais sejam: o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), com o dólar americano ganhando o status de moeda de referência internacional. No entanto, o mais importante compromisso assumido pelas nações em Bretton Woods foi o controle dos fluxos internacional de capitais (consenso entre os dois planos que se apresentaram na Conferência, o de Keynes, representando a Inglaterra, e o de White, representando os EUA).
Na verdade, o controle dos fluxos internacionais de capitais foi capaz de assegurar aos países algum tipo de imunidade frente às pressões nas suas balanças de pagamentos e dava a liberdade para que seus governos orientassem suas políticas monetárias para outros alvos, como, por exemplo, investimentos públicos para geração de emprego e renda. Deixando de lado a questão do câmbio, uma vez que podiam, com certa tranquilidade, fazerem as alterações necessárias para os ajustamentos cambiais de suas próprias moedas.
Contudo, no caso do compromisso americano de sustentar a paridade do preço do dólar em relação ao ouro, as autoridades monetárias americanas achavam-se constrangidas na execução de suas políticas cambiais, posto que, ao contrário dos outros países, não podiam desvalorizar ou valorizar sua moeda em relação às moedas das demais nações.
Por sua vez, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que também participou ativamente de Bretton Woods, após a Segunda Guerra Mundial, obteve grande prestigio internacional, conquistando a admiração e o respeito da maioria dos países do mundo, por ter derrotado sozinha o exército nazista de Hitler. De sorte que vinha estendendo cada vez mais longe sua área de influência, atraindo muitos países europeus para fazer parte do campo socialista. Tal estado de coisas fez reacender grandes disputas ideológicas e intermináveis conflitos geopolíticos entre os Estados Unidos e URSS, resultando na Guerra Fria – caracterizada por um contexto de imensos conflitos, tensões e rivalidades globais. Isto dividiu o mundo em dois grandes blocos: o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, conduzido pela URSS.
Foi nesse contexto que foram criados a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em 1949, uma espécie de aliança militar cujo objetivo era conter o espraiamento do comunismo na Europa, e o Pacto de Varsóvia, organizado em 1955 pela Rússia e pelos países do Leste Europeu para fazer frente a OTAN.
Efetivamente, o plano estratégico do império americano é dominar o mundo, ancorado na seguinte ideia diretriz: “dividir para governar”. Neste aspecto, os Estados Unidos estão sempre buscando pulverizar toda e qualquer nação que apresente potencial econômico, territorial e populacional a ponto de pôr em perigo seus planos estratégicos.
Esse projeto ganhou grande envergadura no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial. Com efeito, José Arbex Jr, em entrevista a Mario Vitor, em seu canal “Forças do Brasil” da TV 247, no dia 16 de agosto deste ano de 2025, fez referência a um famoso geografo britânico, John Mackinder, que estudou o “Coração da Terra (Heartland)”, área central da Eurásia – uma região contendo parte da Rússia (parte europeia), abrangendo alguns territórios da Ásia Central e se estendendo até as planícies da Sibéria. Segundo Arbex, a partir do seu estudo, Mackinder defendeu que “quem dominasse a Eurásia dominaria o mundo”.
No entanto, a simples existência da URSS e sua cada vez mais crescente influência sobre as nações do mundo, principalmente entre os países da Eurásia, fez com que o plano estratégico do império americano fosse, temporariamente, abortado. Sendo assim, os Estados Unidos mudaram sua estratégia de “domínio imperial”, passando a colaborar na reconstrução dos países europeus destruídos pela guerra, através do Plano Marshall – caracterizado por concessão de empréstimos a juros baixos, aplicações de investimentos diretos, transferências de tecnologia, estímulo à competitividade e crescimento econômico. Evidente que os EUA colocavam algumas condicionalidades, por exemplo, os países beneficiados deveriam comprar seus produtos (suas mercadorias) e aderir a sua zona de influência.
Esse conjunto de ações, bem como os gastos bélicos e, um pouco mais tarde, a guerra contra o Vietnã, fez com que os americanos tivessem impactos negativos em seus orçamentos, além de enormes déficits na balança de transações correntes (principalmente na balança comercial) e gradativo esgotamento de suas reservas de ouro.
Por exemplo, nos anos da década de 1960, dados seus superávits nas balanças de pagamentos em relação aos Estados Unidos, os países europeus haviam acumulado enorme volume de investimentos em reservas de dólar (muitos destes investimentos eram em aquisição de Títulos do Tesouro Americano) e tinham expectativas de os converterem em ouro. Entretanto, o passivo americano expresso em dólar superava cada vez mais seu estoque de ouro. Alguns títulos eram de longo prazo, o que aliviava o risco de serem imediatamente convertidos, mas a grande maioria era de curto prazo e poderiam ser rapidamente convertidos em ouro. Assim, não faltaram redefinições nas contas da balança de pagamentos dos Estados Unidos, buscando adaptar-se à pressão latente sobre o valor do ouro expresso em dólar, de forma a evitar o colapso do padrão dólar-ouro.
O acirramento dessas restrições no final da década dos anos de 1960 conduziram os Estados Unidos a uma espécie de aporia (beco sem saída): tinha que manter o câmbio fixo (respeitando Bretton Woods) ou deveria desvalorizar o dólar para manter-se competitivo no mercado internacional. De sorte que, no início da década dos anos de 1970, o presidente americano Richard Nixon, de forma arbitraria e unilateral, retirou o lastro em ouro do dólar (em outras palavras, o dólar não teria mais uma garantia expressa em ouro). Nixon também passou a sobretaxar em 10% as importações de mercadorias americanas, buscando pressionar outros países a valorizar suas próprias moedas.
A partir de então, a moeda internacional, no caso o dólar, passou assumir um caráter fiduciário (de fé), ou seja, seu valor (seu poder de compra) não seria mais ancorado (lastreado, garantido) por algum bem material (que, no caso, era o ouro), mas apenas pela crença, confiabilidade e expectativa que as pessoas e os países nutririam em relação ao dólar. Por vias de consequências, o valor para aquisição de moedas estrangeiras (preço das divisas), no processo de conversão ao dólar (taxa de câmbio), se daria a partir da relação entre demanda e oferta. Configurando-se, assim, como um regime de câmbio flutuante.
Nesse aspecto, o desmonte do sistema Bretton Woods preparou o terreno para o desregramento do comércio mundial e a plena liberdade de movimentação dos fluxos internacionais de capitais. Por sua vez, os processos de globalização neoliberal (desregulamentação dos mercados, privatizações, abertura econômica, equilíbrio fiscal, etc.) e financeirização da economia (potencializado pela sofisticação das comunicações, desenvolvimento de novas tecnologias e inovações financeiras) construíram, ao longo de mais quatro décadas, a maior crise do sistema capitalista desde a queda da bolsa de New York, em 1929, a crise de 2008.
Essa crise provocou, dentre tantos problemas para a população e a economia mundial, grandes reviravoltas nas cadeias globais de produção. No entanto, a hegemonia definitiva do império americano apenas será consolidada, peremptoriamente, com o fim da Guerra Fria, após a queda do Muro de Berlim e o esfacelamento da URSS, no final da década de 1980 e início da década de 1990.
Nessa toada, conforme José Arbex Jr (em outra entrevista a Mario Vitor, um pouco antes da anteriormente citada, ou seja, a do dia 02 de agosto de 2025), ainda no final da década de 1980, a senhora Margareth Thatcher (Reino Unido) passou a defender a ideia de que não existe alguma coisa como “sociedade”, mas apenas um conjunto de indivíduos e suas famílias, ou agrupamentos de pessoas, buscando defenderem interesses comuns. Portanto, não existe aquilo que, até então, era conhecido na área econômica, desde os fisiocratas, como classe social, e, com Marx, luta de classes.
Foi a partir daí que as teorias de um membro da escola de economia austríaca, Friedrich Hayek, desde então, empoeiradas nas estantes das bibliotecas das universidades, ganharam notoriedade. Hayek criticava de forma contundente as tentativas de constrangimento por parte do Estado do funcionamento dos “mecanismos de livre mercado”, ao tempo em que condenava suas políticas ativas, como, por exemplo, as políticas de investimento estatal na produção de bens e serviços públicos e de estímulo à geração de emprego e renda.
Essa “doutrina” de um “novo liberalismo”, mais tarde conhecido como neoliberalismo, teve repercussão mundial e foi levado a cabo por Ronald Reagan (Estados Unidos), a partir da sua eleição em 1982. Ainda de acordo com Arbex, na entrevista acima, Reagan afirmava, à época, de forma falaciosa, que quem se beneficiava do saneamento básico eram os pobres, quem participava dos programas de saúde, educação e moradia públicas (os pobres). Sendo assim, ele perguntava: “quem deve pagar mais impostos, os ricos ou os pobres?” Ele mesmo respondia: “quem realmente se beneficiam deles, ou seja, os pobres”. Portanto, emerge neste contexto um sistema tributário de natureza regressiva (paga mais quem tem menos e menos quem tem mais). De sorte que, pensava Reagan, os ricos agora, pagando menos impostos, poderia investir mais, gerar mais emprego e fazer a economia crescer (aumentando a riqueza e a felicidade geral da nação).
No início da década de 1990, juntamente com a implantação do “Consenso de Washington” que pregava, entre outras diretrizes, o afastamento do Estado da economia – delegando questões sociais e todas as demandas da sociedade para o mercado e a iniciativa privada – o mundo assistiria ao surgimento da “globalização mundial”. Sendo assim, o conjunto totalizado de todos esses fatores, no longo prazo, resultaram nos problemas vivenciados, até então, pela economia ocidental, cujos principais afetados foram as populações e os trabalhadores dos países dependentes e periféricos. Bem como, a partir de crise de 2008, as economias dos países europeus e americanas.
Foi assim que, ainda nesses primeiros anos da década de 1990, o avanço do neoliberalismo fez com que as grandes empresas europeias e americanas transferissem seus parques industriais para as regiões periféricas do planeta, a exemplo da África e da Ásia. O objetivo destas empresas eram obterem condições de produção com baixos custos de mão-de-obra e sem proteção de direitos trabalhistas. Além de adquirir abundante disponibilidade de insumos em locais onde não existia legislação de proteção ambiental. Por conseguinte, houve um processo acelerado de desindustrialização da economia ocidental, principalmente, a americana e, adicionalmente, um descomunal processo de financeirização econômica.
Adicionalmente, ainda nesse mesmo período do fim da década de 1980, assistiu-se a queda do Muro de Berlin e a posterior derrocada da União Soviética em 1991. Em decorrência, os Estados Unidos definitivamente se consagram vencedores da Guerra Fria, impondo uma nova ordem mundial na qual eles detinham o poder global e o monopólio incontestável de guerrear (invadir ou intervir de forma violenta nos outros países). Nesse sentido, proclamaram pelos quatros cantos do mundo o “triunfo da democracia e do liberalismo econômico”, simultaneamente, endossando o vaticínio de Francis Fukuyama do “Fim da História”, prometendo um mundo de paz e harmonia entre os povos.
Entretanto, mesmo ainda nos primeiros anos da década de 1990, o império americano promoveu inúmeras intervenções militares, principalmente no “Oriente Médio”. De fato, um relatório do “Congressional Research Service”, de 2011, demonstra que os EUA realizaram nada mais nada menos do que 251 intervenções políticas e militares em várias regiões do mundo entre os anos de 1991 a 2022.
Do montante dessas intervenções é importante evidenciar as seguintes: Guerra do Golfo (1990/1991) – coalizão militar liderada pelos EUA, com o objetivo de libertar o Kuwait que estava ocupado pelo Iraque; Intervenção na Iugoslávia (1995) – liderado pela OTAN durante a Guerra da Bósnia; Invasão do Afeganistão (2001) – retaliação militar por conta dos ataques de 11 de setembro, cujo objetivo foi derrotar o regime Taliban e destruir a Al-Qaeda; Invasão do Iraque (2003) – com a falsa justificativa de destruir o arsenal de “armas de destruição em massa” possuída pelo Iraque; Intervenção na Líbia (2011) – liderada pela OTAN no contexto da Guerra Civil Líbia; Intervenção na Síria (2014) – liderada pelos EUA no contexto da Guerra Civil Síria, objetivando combater o Estado Islâmico; etc.
No caso da atual guerra por procuração entre EUA/OTAN (através da Ucrânia) contra a Rússia, pode-se encabeçar como principal causa à indevida expansão da OTAN em direção aos países do Leste Europeu, imediatamente após o fim da Guerra Fria, incorporando antigos membros do Pacto de Varsóvia e das antigas repúblicas soviéticas.
Com efeito, José Arbex Jr, na acima citada entrevista do dia 16 de agosto deste ano de 2025, lembrava que Zbigniew Brzezinski, em seu livro “O Grande Tabuleiro de Xadrez”, publicado em 1997, considerava a Eurásia como o centro da economia global, de tal forma que “a potência quer dominar a Eurásia, dominará o mundo no século XXI”. Nesse sentido, os Estados Unidos deveriam ter uma geoestratégia segundo a qual não permitisse que nenhum país dessa região pudesse emergir com o poder de dominar a Eurásia, pois tal país poria em xeque a hegemonia global dos EUA.
Todavia, mesmo após o colapso da URSS, a Rússia manteve sua integridade territorial e se configurava como o mais extenso país do mundo, e, por conseguinte, da Eurásia Central, portanto, com potencial de dominar essa sub-região. Sendo assim, Brzezinski, em linha com Mackinder, recomendava a contenção da Rússia pelos Estados Unidos. Nesse contexto, a ideia dos estrategistas americanos era fragmentar a Rússia em pelo menos três países/regiões: Rússia Ocidental (parte europeia), Rússia Oriental e Rússia Siberiana. Para tanto, primeiramente, recomendava que fosse retirada a Ucrânia da esfera de influência da Rússia.
Isso provavelmente configura-se como uma plausível explicação do porque da tão prolongada e insistente expansão da OTAN em torno da fronteira da Rússia e a tentativa de incorporar a Ucrânia nesta aliança militar.
Embora o império não obtivesse sucesso no seu intento de desfragmentar territorialmente a Rússia, no transcorrer dos anos da década de 1990, conseguiu, no entanto, devastar completamente sua economia e boa parte de suas instituições, transformando a Rússia em “Terra de Ninguém”. Um verdadeiro paraíso para as oligarquias capitalistas, nacionais e estrangeiras, com suas sanhas privatistas, e também para os grandes grupos de mafiosos e promotores das pirâmides financeiras, em suma: para todo tipo de organizações criminosas. A coisa começa a mudar sua natureza com a ascensão de Vladimir Putin, em 1999, e sua eleição para presidente da Federação Russa, em 2000.
Putin, no seu primeiro mandato, fez a economia russa ganhar novos rumos e escalas de grandeza: sua economia passou a crescer, em média, algo em torno de sete por cento ao ano. Para explicar estes resultados, além das reformas internas e dos planejamentos econômicos e sociais, orientados pelas ações do Estado, a Rússia foi favorecida por uma conjuntura econômica mundial em que os preços internacionais das commodities, especialmente o petróleo e do gás, alcançaram patamares recordes, aumentos de até cinco vezes.
Faz-se necessário lembrar que todo o arsenal nuclear que pertencia a URSS ficou alocado nos seguintes quatros países independes: Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão e Ucrânia. Todavia, por pressão dos próprios americanos, depois de vários conflitos e negociações (pagamentos, indenizações e acordos), passaram a ser monopólio da Rússia.
Logo na sequência, após reestruturar sua indústria bélica e seu potencial de armas nucleares, o presidente Putin ergueu a cabeça e comportou-se como um hábil jogador no tabuleiro de xadrez da geopolítica mundial. Nesse sentido, ainda no seu primeiro ano de governo, Putin conduziu a Rússia a um conflito contra os separatistas chechenos, conseguindo retomar o controle da região. Além de outros elementos de forte peso analisados anteriormente, o resultado disto, como se verá mais abaixo, foi, e está sendo, a Guerra da Rússia contra os Estados Unidos (via Ucrânia) e seu braço armado na Europa, a OTAN.
Sendo assim, vamos à raiz dessa Guerra: ainda no final dos anos da década de 1990, o presidente da URSS Boris Yeltsin escreveu para seu homologo americano, Bill Clinton, expressando preocupação em relação à expansão da OTAN, pois enxergava isto como grande ameaça à segurança da Rússia e contrariava o acordo formal de 1990 que pôs fim a Guerra Fria.
No entanto, apesar do acordo e das promessas e de não expansão, a OTAN fez pelo menos três rodadas de expansão. A primeira se deu em 1999, na qual foram incorporadas a Polônia, a Hungria e a República Tcheca (estes países pertenciam ao Pacto de Varsóvia). A Rússia reclamou, mas não tinha como enfrentar o poder imperial dos Estados Unidos.
A segunda rodada se deu em 2004 (Putin já era presidente da Rússia), mas também não tinha ainda se estruturado para dissuadir os Estados Unidos de seus intentos. De sorte que foram incorporados à OTAN outros países, como Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e os países bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), como esses países eram também ex-repúblicas soviéticas, ficou caracterizado que a expansão da OTAN se deslocava para cercar as fronteira da Rússia. Putin, que estava cada vez mais ciente dos planos do império e da estratégia da OTAN, avisou que isto não era aceitável para a segurança da Rússia e seria obrigado a tomar medidas enérgicas.
Mas os Estados Unidos e a OTAN escarneciam os alertas de Vladimir Putin, achavam que a Rússia não tinha capacidade miliar para afrontar o império. Nesse sentido, para “cutucar o Urso com vara-curta” e colocar à prova a paciência de Putin, a Romênia e a Bulgária, em 2007, se tornam membros da União Europeia.
Putin limitava-se, como já era de praxe, aos protestos diplomáticos através das instituições internacionais, principalmente na ONU, denunciando que a expansão da OTAN, em torno de suas fronteiras, colocava em perigo a segurança existencial da Rússia. Todavia, talvez analisando a correlação de forças que ainda lhes era desfavorável, o presidente russo não tomava nenhuma ação belicista contra a OTAN e os Estados Unidos. Sendo assim, a expansão seguia seu curso.
Na verdade, como vimos acima (estratégia do império), o plano dos Estados Unidos era fatiar a Rússia, uma vez que este país detém, dentro de suas fronteiras, a maior expansão territorial do mundo e por tabela da Eurásia Central. A Rússia é produtora de recursos econômicos estratégicos (dentre os quais, petróleo, gás e boa parte das famosas “terras raras”), tem uma população de mais de 140 milhões de pessoas, portadora de uma cultura milenar. De tal maneira que poderia por em cheque a hegemonia do império americano. Sendo assim, a OTAN estava determinada a transformar a Ucrânia em sua fortaleza militar (munida de armamentos nucleares), próximo à fronteira da Rússia.
Na Conferencia de Segurança de Munique, fevereiro de 2007, Putin proferiu um discurso onde falou que não mais aceitaria qualquer tipo de expansão da OTAN, declarando que a “Ordem Unipolar” liderada pelos EUA estava esgotada e que a Rússia deve ser reconhecida como grande potência mundial e suas reivindicações por seguranças devem ser respeitadas. Um ano depois, em abril de 2008, na reunião de cúpula da OTAN, em Bucareste, veio à resposta: foi determinado que a Ucrânia e a Geórgia passassem integrar a aliança militar da OTAN.
Putin reagiu imediatamente, afirmando que isso não iria acontecer, pois usaria todos os recursos disponíveis, inclusive bélicos. Mas os Estados Unidos e a própria OTAN, desconhecendo o verdadeiro potencial arsenal e militar russo, continuavam desdenhando de Putin. Achando que a Rússia era fraca e não tinha como impedir os propósitos do império.
Em 2009, um ano depois, foi à vez da Croácia e da Albânia se integrarem a OTAN. Vladimir Putin continuou suas incansáveis ações diplomatas e apelativas, através dos órgãos internacionais multilaterais, denunciando que a expansão da OTAN configurava-se, cada vez mais fortemente, como uma verdadeira ameaça a existência da Federação Russa, e que não aceitaria passivamente esta injustificada expansão.
Alguns anos depois, em 2014, a partir de uma crise política na Ucrânia, que culminou com uma “revolução colorida”, organizada e patrocinada pelos Estados Unidos, com violentos conflitos e manifestações em Kiev (capital da Ucrânia), conhecidas como Euromaidan, o governo eleito, Viktor Yanukovych, que mantinha boas relações com Putin (e era defensor de uma Ucrânia neutra e fora da OTAN), foi derrubado do poder, fugindo, logo em seguida, para a Rússia.
Formou-se assim um governo interino, com a composição e o apoio da extrema direita nazista ucraniana. Em seguida, após muitas mudanças institucionais e jurídicas, houve finalmente eleições presidenciais, em maio de 2014, onde um candidato pró-ocidente, Petro Poroshenko, consagrou-se vencedor e assumiu a presidência da Ucrânia.
Neste contexto, após a aprovação de um referendo na qual a Criméia pedia sua incorporação ao território da Rússia, Putin, deixando de lado a simples retórica apelativa e diplomática, invadiu e reincorporou a Criméia à Federação Rússia, em março de 2014. Importante lembrar que, historicamente, desde o final do século XVIII, a Criméia pertencia à Rússia. Uma vez que, em 1783, após a guerra contra os Turcos-Otomano, a imperatriz da Rússia, Cataria II, anexou a Crimeia ao seu império.
Claro que a Ucrânia e a comunidade internacional, através da ONU, não reconheceram a anexação da Crimeia ao território da Rússia. A reação da União Europeia e dos Estados Unidos não demorou a chegar, dentre tantas outras ações de retaliação, a Rússia sofreu várias sanções econômicas.
Nessas circunstancias, elevaram-se as tensões entre o governo da Ucrânia e as províncias separatistas, pró-Rússia, de Donetsk e Lugansk, na região do Donbass, situada no Leste da Ucrânia. Foi instalada uma verdadeira guerra civil nesta região do Donbass, ainda no ano de 2014, onde o exército ucraniano promovia um verdadeiro massacre contra as populações das províncias insurgentes.
Essas, por sua vez, apoiadas militarmente pela Rússia, resistiam bravamente, reivindicando suas independências. Depois de sangrentos conflitos, finalmente, ocorreram os assim chamados acordos de Minsk, onde a Ucrânia e a comunidade internacional aceitaram o cessar-fogo e “reconheciam parcialmente” a independência das duas províncias rebeldes. Todavia, a ala nazista do exército ucraniano mantiveram suas ações belicistas e os massacres contra as populações de Donetsk e Lugansk continuaram.
Com a anexação da Criméia à Federação Russa, indiferente aos apelos dos dirigentes daquele país, a OTAN continuou sua expansão. Todavia, alguns anos mais tarde, a cartada decisiva para guerra entre a Rússia e a Ucrânia se deu quando o novo presidente da Ucrânia, Volodymyk Zelensky, eleito em 2019, foi forçado a protocolar o pedido de incorporação à OTAN.
Podemos abrir um parêntese aqui e problematizar o papel de Zelensky neste cenário. Primeiramente, é importante lembrar que Zelensky foi eleito através de uma plataforma que defendia a paz entre os povos russos e ucranianos, buscando apaziguar os conflitos ente eles, em especial os da região do Donbass, onde a população é de origem russa, mantendo e perpetuando a cultura e a língua russa. No caso das duas províncias rebeldes Zelensky defendia o respeito aos acordos de Minsk e condenavam os ataques dos grupos nazistas de extrema direita.
Todavia, os bandeiristas (organização nazista, outrora, no contexto da Segunda Guerra Mundial, foi liderados por Stepan Bandera), boa parte deles infiltrados no exército ucraniano, pressionavam Zelensky (inclusive com ameaças de morte) para continuar o massacre contra os rebeldes, impondo submissão forçada. Neste sentido, foram eles que mais pressionaram para que Zelensky formalizasse o pedido de ingresso na OTAN, já sinalizado pelo império americano.
Vamos fazer ponto aqui e abrir uma janela para colocar, no tabuleiro geopolítico, a China e os países do BRICS.
A China emerge no contexto da grade crise da economia mundial, em 2008, através de políticas de crescimento e desenvolvimento econômico completamente fora do padrão neoliberal e das diretrizes do mercado mundial, dominado pelo regime de acumulação financeira. Na verdade, os sinais da robustez da economia real chinesa, com seus intermináveis planos econômicos de longo prazo, atraíram todos os holofotes e atenção mundial efetivamente no ano de 2001, quando de sua entrada na Organização Mundial do Comercio (OMC).
A partir de então, a china obteve patamares econômicos invejáveis ao sair da situação de sexta economia do mundo para a segunda. Sua população saiu da condição de pobreza que expressava, em 2002, expressa através de preocupantes estimativas em torno de 32% para alcançar algo em torno de 0,5%, no ano de 2016.
Motivada pela sua extraordinária percepção de ordem de grandeza e munido de uma sabedoria milenar, a China trata de modernizar e expandir suas relações internacionais com os outros países mundo afora, inclusive com os europeus e os Estados Unidos, para fins econômicos e geopolíticos. Para tanto, idealiza e põe em prática um projeto ambicioso, conhecido como “Rota da Seda”: uma rede de rotas comerciais que conectam diferentes regiões e culturas dos diferentes países da Ásia, África e Europa.
Lançada oficialmente em 2013, o projeto de Cinturão e Rota da Seda configura-se através de uma arquitetura de desenvolvimento de infraestrutura regional e global de longuíssimo prazo (40 anos). Este arcabouço busca englobar o "Cinturão Econômico da Rota da Seda" (rotas terrestres) e a "Rota da Seda Marítima do Século XXI" (rotas marítimas). Seu objetivo é criar um novo corredor econômico entre a China e os países que aderirem a este projeto, além da África, a Europa e a Ásia (Eurásia). Adicionalmente, busca fortalecer as relações comerciais, promover o desenvolvimento econômico e aumentar a influência política e cultural da China.
Neste ano de 2025, já são mais de 154 países e organizações internacionais, incluindo também a América Latina, embora o Brasil formalmente ainda não tenha se incorporado, mas mantem robustas relações com a China em várias áreas de interesse.
A China já é detentora de mais de 2/3 do mercado mundial. Alcançou no ano passado um superávit comercial de R$ 1,0 trilhão de dólares ou sete trilhões de yuans (equivalente a 5,8 trilhões de reais), enquanto os EUA mantem crescentes déficits orçamentário e tem uma dívida pública de aproximadamente 37 trilhões de dólares (a cada 4 meses a divida americana cresce em torno de 1,0 trilhão de dólares).
A China avança também muito rapidamente no requisito de tecnologias fundamentais, a exemplo da tecnologia de redes moveis 6 G, computação quântica, materiais avançados, semicondutores e inteligência artificial. Ela tem também indústrias pujantes nas áreas de robótica, veículos elétricos e telecomunicações.
No caso do BRICS, sabe-se que a partir da crise de 2008, a crise do subprime, e suas repercussões internacionais, tanto no mundo da produção real, como nos serviços financeiros, reverberaram nas reuniões da ONU e do G20. Bem a propósitos, durantes estes encontros, os países emergentes como Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) passaram a se reunir buscando discutirem formas alternativas para minimizar as perdas econômicas e financeiras por conta da “obrigação” de fazerem suas transações comercias por meio do dólar americano. Na verdade, quem sugeriu a sigla "BRIC" foi o economista britânico Jim O'Neill, em 2001 – um executivo do banco Goldman Sachs, referindo-se aos quatro países emergentes como prováveis futuras potências da geoeconomia mundial.[1]
Com efeito, a primeira Cúpula oficial dos países do BRICS ocorreu em 2009, na cidade de Yekaterinburg, na Rússia, onde foi incorporado um novo membro, a África do Sul, passando desde então a ser conhecido por BRICS (o “S”, é do nome inglês South Africa). Por sua vez, a XVI Cúpula aconteceu na histórica cidade de Cazan, entre os dias 22 e 24 de outubro deste ano de 2024, também na Rússia, e contou com as participações, pela primeira vez, dos seguintes países: Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, todos como membros plenos. Neste encontro, foram admitidos treze novos parceiros: Argélia, Bielorrússia, Bolívia, Cuba, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã.
O encontro do BRICS, em Cazan, configurou-se como evento de grande envergadura, onde os países membros tiveram a oportunidade de discutir e debater questões gerais e estratégias para o crescimento, desenvolvimento e consolidação do grupo.
A última reunião de cúpula dos BRICS ocorreu neste ano de 2025, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, nela a Indonésia foi incorporada como membro pleno do bloco. Além disso, foram anunciados como "países parceiros" Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia e Vietnã.
O BRICS, principalmente com a adesão de novos membros, tem uma função estruturante para a formatação do mundo multipolar que vem sendo construída a partir da consciência dos países do sul global de que os Estados Unidos, defensores da unipolaridade, com seu tacão imperialista, perderam definitivamente sua hegemonia geoeconômica e geopolítica no mundo globalizado e que suas instituições se tornaram disfuncionais para a convivência pacífica, equilibrada e inclusiva das nações e povos. A conclusão a que se chegou é que o BRICS não só tem jogado um papel relevante para a construção e desenvolvimento do referido fenômeno, mas também se tornou elemento crucial para a sua consolidação.
Retornando à catástrofe que esta abalando as placas tectônicas da geopolítica mundial, temos que a encruzilhada histórica em que o sistema capitalista se encontra, nesta metade da segunda década do século XXI, se expressa através das guerras políticas, comerciais e belicistas, cujo pano de fundo está nas atormentadas tentativas dos Estados Unidos conservarem sua hegemonia global, através da permanência do mundo unipolaridade.
De um lado, estão os Estados Unidos da América e seus aliados da Europa, Japão e Coreia do Sul (países do Norte Global). Do outro, estão China/Rússia e seus aliados do BRICS, além de outros que compõem a Rota e Cinturão da Seda (países do Sul Global). Com efeito, a hegemonia do império norte-americano, manifestada na estrutura do mundo unipolar, devido à nova dinâmica geoeconômica e geopolítica mundial, vem perdendo espaço e é reivindicada pela China, que propõe a configuração de um mundo multipolar.
As ações e reações do império têm produzido tensões políticas e conflitos belicistas nos quatro cantos do globo terrestre. Alguns analistas já afirmam que está em curso a Terceira Guerra Mundial e o escalamento dos conflitos pode levar ao uso de armamentos com encadeamento subatômico e de mísseis supersônicos, munidos de artefatos nucleares.
Apesar de que os principais países membros do núcleo duro do BRICS estão sendo vítimas de violentas ações do império americano, está em curso um inexorável processo de formatação de um novo Sistema Monetário Internacional, cuja inevitável premissa é a criação de um instrumento monetário (eletrônico e fiduciário) que substituiria o dólar americano. Por conta disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parlamenta de forma ameaçadora que a substituição do dólar configura como um instrumento de guerra contra os interesses americanos, afirmando que a substituição do dólar por uma moeda alternativa seria equivalente aos EUA perderem a terceira guerra mundial.
De fato, vimos que os Estados Unidos, como detentores absolutos da emissão da mais importante moeda internacional, o dólar, exercem um impactante e avassalador poder sobre a economia global (inclusive como arma política contra seus adversários), pois, entre outras vantagens, garante o financiamento de seu déficit e lhes permite utilizar, sem nenhum constrangimento, sanções econômicas contra seus concorrentes e inimigos históricos.
Exatamente nesse contexto é que o BRICS monta seu estratégico cenário, pois ao propor a criação de uma moeda alternativa ao dólar, e todo um aparato de instituições financeiras e de normatizações para o funcionamento das transações internacionais, coloca em xeque a hegemonia estadunidense, pois, entre outras perdas, castra o poder político, monetário e econômico americano.
Portanto, a comportamento de Trump explicita a percepção de que, peremptoriamente, a perda do status do dólar como moeda dominante seria uma derrota geopolítica e geoeconômica para os Estados Unidos, pondo fim, de uma vez por todas, à sua hegemonia global, resultando na derrocada definitiva para o império unipolar.
No entanto, a mudança do eixo da economia mundial em direção à Ásia, bem como a provável consolidação da derrocada final do império americano, embora já esteja sendo efetivamente construída, requer paciência e uma estratégia de sofisticada diplomacia. Dado o poder bélico americano, com suas mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo afora e seus arsenais de armas de destruição em massa (equipadas com ogivas atômicas), há o risco real de uma catástrofe nuclear de proporção planetária.
No entanto, para os otimistas, o encontro de cúpula, no dia 15 de agosto, no Alasca entre o presidente Putin com Trump, ameniza o medo realista de uma catástrofe nuclear (pelo menos no curto prazo). Trump temporariamente deitou ao chão toda a presunção do império e estendeu tapete vermelho para Putin desfilar (evento até então inacreditável). Mas, historicamente, o império usa de todas as formas e artimanhas (nunca foi confiável) para perpetuar seu poder hegemônico. Na verdade, os analistas mais realistas defendem que o império precisa de um tempo para limpar suas baionetas, cobrir suas feridas e recompor sua força para novas ações belicistas e imperiais





